






Sayra nasceu em Alpalina, em uma época em que seus pais ainda eram cidadãos livres — artistas respeitados, músicos a serviço da elite, contratados para cerimônias públicas e privadas. Eles não eram ricos, mas ocupavam um espaço de prestígio discreto na sociedade de Hajfkar.
A cidade era autoritária, sim — sempre foi. O Conselho do Deserto não tolerava ideias, mas valorizava a beleza quando ela servia ao poder. A arte da família de Sayra era controlada, vigiada, mas ainda permitida. Até que, um dia, um dos filhos do Conselho cometeu um crime bárbaro contra uma jovem serva — e a música tocada pelos pais de Sayra naquela noite foi interpretada como uma crítica velada, uma afronta sutil.
E isso foi o suficiente.
Eles foram acusados de disseminar doutrinas subversivas e punidos exemplarmente: seus direitos foram revogados, seus nomes apagados dos registros, e foram vendidos como "servidores culturais escravizados" — artistas obrigados a performar para as mesmas elites que os condenaram.
Durante os anos de servidão, a arte da família Auren'Zar foi sequestrada. A música, antes espontânea e viva, tornou-se uma ferramenta de humilhação — performances obrigatórias diante de um público que via nos artistas não pessoas, mas propriedades.
Sayra cresceu com calos nos dedos e pés descalços sobre pisos polidos que nunca lhes pertenceriam. Eles dormiam em espaços apertados, em quartos com trancas por fora, e eram acordados com ordens secas e rostos indiferentes.
Mas não foi o frio ou a fome que moldou Sayra — foi o que ela viu acontecer com seus pais.
A mãe, Nirla, antes tão vibrante, começou a se calar entre uma apresentação e outra. Acordava cedo, arrumava o cabelo da filha, e ensaiava mesmo quando não havia público. O pai, Dareth, tentava manter a alegria viva, contando histórias inventadas nos poucos minutos livres, mas havia um tom forçado nos sorrisos que Sayra não entendia — não ainda.
Certa noite, escondidos atrás de uma tapeçaria, os três dividiram um momento raro de paz.
— “Pai... por que eles nos odeiam se somos bons?” — Sayra sussurrou, ainda com as bochechas molhadas da última bronca.
O pai demorou para responder. Estava com o rosto encostado na parede, como se escutasse o mundo além dela.
— “Porque o que a gente faz é nosso. E quem quer controlar tudo... odeia o que não pode dominar.”
— “Mas a gente canta pra eles...”
A mãe se abaixou ao lado da menina, segurando seu rosto com as duas mãos. Seu olhar era duro e doce ao mesmo tempo — como se segurasse a própria alma para não desmoronar.
— “Você lembra do som da praça, filha? Quando a gente tocava sem pedir permissão? Quando todo mundo dançava junto, sem ninguém dizer como, nem quando?”
Sayra assentiu com a cabeça. Lembrava, sim. E do cheiro da comida. E das fitas no ar.
— “Aquilo era liberdade.”
O pai completou:
— “Você vai ouvir esse som de novo, um dia. Mas não vai ser aqui. Vai ser longe, e talvez demore. Mas quando ouvir... vai saber.”
A mãe apertou a mão da filha, como se selasse um juramento.
— “Até lá, a gente finge. Mas nunca esquece.”
Naquela noite, Sayra não dormiu. E mesmo depois que os anos apagaram as cores da memória, ela nunca esqueceu o tom exato da voz dos pais — e a maneira como eles diziam esperança como se fosse um segredo perigoso demais pra ser falado em voz alta.
A fuga não foi planejada.
Não houve conspiração, nem códigos secretos trocados entre correntes. Foi só o acaso — ou, como Sayra passou a acreditar depois, uma chance cruel que a vida ofereceu em silêncio.
Foi numa noite abafada, durante uma recepção de nobres estrangeiros, que tudo aconteceu. O pátio estava cheio de perfumes pesados e risos falsos. Sayra, então com quatorze anos, tocava uma melodia repetitiva no fundo da sala, enquanto os pais se apresentavam no centro, cansados, mas graciosos — como sempre.
Então, um dos convidados derrubou uma taça. O som do vidro estilhaçado não foi o que chamou atenção. Foi o grito que veio depois.
Uma criada foi acusada de descuido. Não era da casa — era das cozinhas inferiores. E alguém, talvez para impressionar, decidiu aplicar a punição ali mesmo, diante dos presentes.
O espetáculo da violência começou. E ninguém interrompeu.
Os pais de Sayra hesitaram. A música parou.
Foi ali que Sayra viu, pela primeira vez, o rosto de seu pai... quebrar.
Não de raiva — mas de vergonha. Uma vergonha que sangrava fundo, como se o próprio corpo se negasse a continuar fingindo que aquilo era vida.
Mais tarde, naquela mesma noite, no pequeno aposento onde os três dividiam colchões gastos, Dareth sussurrou à esposa:
— "Não dá mais. Ou a gente morre aqui dentro… ou ela morre por dentro lá fora."
Nirla chorou sem som. Apenas tremia, segurando Sayra com força.
Eles não tinham um plano. Só uma ideia. Um espaço entre carruagens que partiriam na madrugada, uma distração entre criados bêbados e o sono dos senhores.
E só havia tempo para uma pessoa escapar.
O adeus veio rápido. Sem aviso.
Na hora marcada, os dois levaram Sayra até os fundos dos estábulos. O pai abriu a pequena comporta no fundo de uma carroça de carga, coberta com tecidos e palha.
— “Fica em silêncio. Não se mexa. Não importa o que ouvir.”
Sayra começou a protestar. Estava confusa, tremendo.
— “Não. Eu não vou sem vocês. Eu não quero—”
A mãe a segurou com força, os olhos vermelhos, o rosto molhado.
— “Você vai sim. Porque ainda sabe como é ser livre. A gente esqueceu. Mas você lembra. E vai lembrar por nós.”
O pai entregou a ela um pequeno tecido enrolado — com uma única flauta de bambu dentro.
— “Ela ainda é sua. Mesmo que nunca mais toque.”
A voz dele falhou no fim. Ele não conseguiu dizer “adeus”.
Fechou a portinhola com cuidado. E foi embora.
Sayra ouviu os sons da carroça partindo. Depois, gritos distantes.
Não sabia se foram ouvidos. Se pagaram por aquilo. Se sobreviveram.
Não sabia se queria saber.
Só sabia que, quando a carroça parou horas depois, e ela saiu para o ar seco da madrugada fora dos muros de Alpalina, ela não sentiu liberdade — sentiu culpa.
E esse foi o primeiro peso que carregou. O primeiro nome que não disse.
Sayra nunca voltou a ser “Sayra Auren’Zar”.
Na primeira cidade onde chegou, deu um nome falso.
Na segunda, um sotaque diferente.
Na terceira, um novo ofício.
E assim seguiu — uma mulher sem raízes, sem terra, sem permissão para pertencer.
Ela sobreviveu como pôde. Tocou para tavernas, vendeu histórias roubadas, aprendeu a fazer pequenos favores para os que mandavam e promessas silenciosas aos que não podiam pagar. Tornou-se útil o suficiente para não ser descartada, invisível o bastante para não ser lembrada.
Com o tempo, o rosto dela aprendeu a mudar conforme a cidade. Em povoados pobres, era uma viajante humilde. Em vilarejos fervorosos, se dizia devota. Em portos mercantes, se tornava uma contadora de piadas baratas. Cada nova identidade era uma roupa suja que vestia por cima da antiga — até esquecer o que havia por baixo.
Ela viveu em lugares frios, em barracos de lama. Em cidades quentes, dormindo sob toldos. Viu crianças sorrindo sem saber do que estavam rindo. E mães que choravam à noite por filhos desaparecidos.
Em todos os lugares por onde passou, Sayra procurava algo que não conseguia nomear: talvez um reflexo. Talvez perdão. Talvez só… alguém que a reconhecesse sem que ela dissesse quem era.
Mas ninguém nunca reconheceu.
Com os anos, ela começou a atrair outros errantes como ela. Pessoas que também haviam perdido algo — um nome, um lar, uma mãe, uma fé. Juntos, formavam uma espécie de família não dita, um grupo de nomades quebrados, cada um fingindo que estavam indo a algum lugar… enquanto apenas fugiam do que deixaram para trás.
Ela não se tornou líder. Mas todos a ouviam.
Porque quando ela falava, falava pouco — mas dizia tudo com os olhos.
E quando tocava… havia um silêncio que tomava conta.
Não pela beleza da música.
Mas porque, naquele som, se ouvia dor. E esperança. E perda. Tudo ao mesmo tempo.
Ela não acredita mais em pátrias.
Nem em cidades. Nem em hinos.
Mas às vezes, quando o fogo está quase apagando, e todos ao redor dormem, ela pega a flauta escondida no fundo do manto.
E toca bem baixinho — só para si.
Não para lembrar.
Mas para não esquecer de esquecer.

Developed by Necro#9156
Direitos reservados. © O site não detem os direitos sobre algumas de suas artes.

RUPIAS
MICOINS
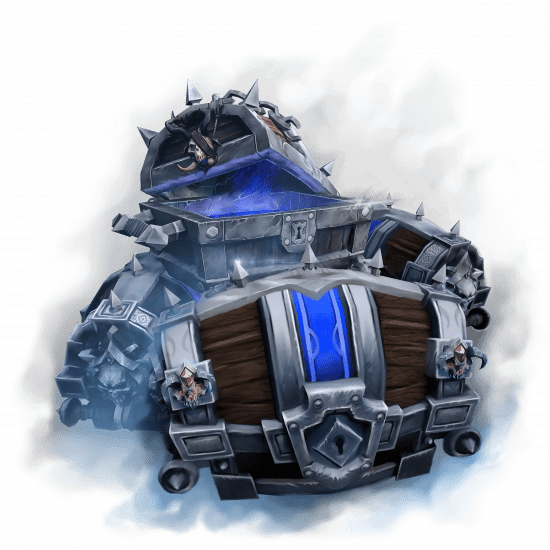
RUPIAS
MICOINS

RUPIAS
MICOINS
Escolha o pacote de 10, 50 ou 100 reais e efetue o pagamento desse valor para o PIX a seguir.
Não esqueça de fornecer o nome do seu usuário anexado ao comentário do pagamento.

Ou para a chave pix natsulopes8@gmail.com
Você terá o pacote creditado em sua conta em até 24 horas após o pagamento.
⚠️ Qualquer transferência que não esteja nos valores de 10, 50 ou 100 reais não serão aprovados.
Se preferir doar qualquer quantia para colaborar com o RPG, nós vamos amar. ❤️
Problemas e dúvidas? Use o canal #ouvidoria de nosso Discord.